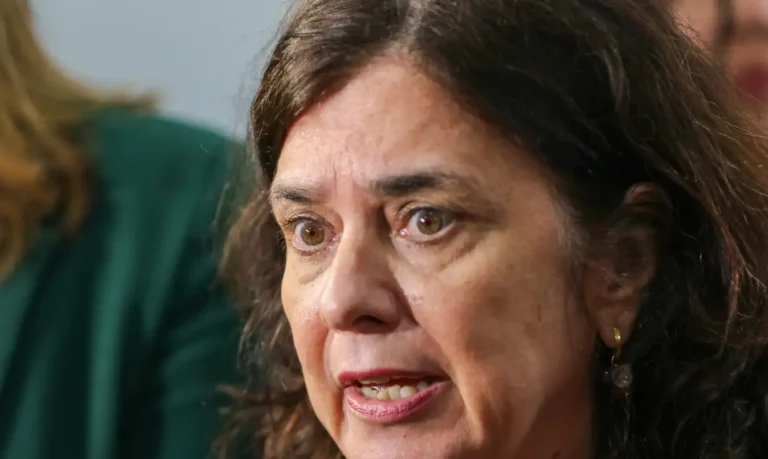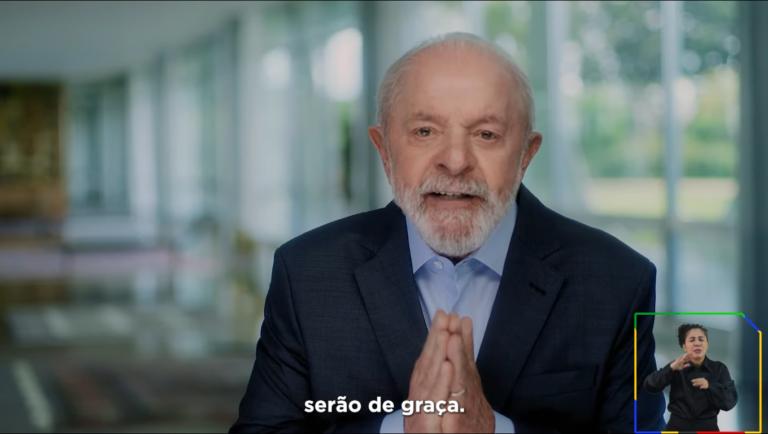Por Leonardo Corrêa*
O texto a seguir é uma reflexão crítica sobre o discurso proferido ontem pelo Ministro Alexandre de Moraes na USP. Baseia-se no que foi divulgado na imprensa e em vídeos que circularam nas redes sociais. Em um Estado Democrático de Direito, a crítica deve ser vista como algo positivo, um instrumento essencial para o equilíbrio institucional. Esta análise parte da defesa da Constituição e do respeito ao Supremo Tribunal Federal como um pilar relevante da República. No entanto, questionar os rumos de sua atuação, especialmente quando se afasta do texto constitucional, é um direito legítimo e necessário para garantir a separação de poderes e a preservação da democracia.
Feita essa ressalva, essencial nos dias de hoje, o discurso de Alexandre de Moraes na USP lembra os discursos universitários das décadas de 1980 e 1990, quando era comum responsabilizar o capitalismo e os Estados Unidos por todos os problemas do mundo. A diferença agora é que o tom mudou. O novo inimigo são as Big Techs, os algoritmos e a chamada “extrema-direita”. O que o ministro não faz — de forma alguma — é uma mea culpa.
Para Moraes, as redes sociais representam um risco à democracia porque permitem que qualquer pessoa, mesmo sem formação acadêmica, expresse opiniões e influencie outras pessoas. Na visão do ministro, isso desorganiza a comunicação pública, reduzindo o papel da imprensa tradicional e abrindo espaço para discursos que ele classifica como ameaçadores. Mas será que essa preocupação tem fundamento? Ou será que, na realidade, a população simplesmente se cansou de ser doutrinada pela elite pensante?
O ministro também afirma que os algoritmos das Big Techs são manipulados para espalhar discursos específicos e que as redes sociais foram instrumentalizadas por “grupos econômicos fascistas” para minar a democracia. Mas até que ponto essa narrativa se sustenta? O próprio conceito de fascismo foi distorcido ao longo dos anos, sendo aplicado a qualquer um que discorde do establishment. Não seria mais razoável considerar que o crescimento da insatisfação popular não tem relação com manipulação digital, mas sim com o fato de que as pessoas vivem na pele a estrutura perversa descrita por Raymundo Faoro em “Os Donos do Poder”?
A afirmação de que as plataformas digitais promovem uma “ideologia fascista” e a insinuação de que os algoritmos são usados para manipular a opinião pública reforçam a ideia de que a regulação das redes não se trata apenas de uma questão técnica, mas sim de um instrumento para controlar a narrativa pública. Em 1984, de George Orwell, o Partido mantinha o poder reescrevendo a verdade. Moraes argumenta que a democracia está sendo corroída pelas vozes digitais, mas não menciona o risco que um controle excessivo da informação representa para a própria democracia.
Além disso, sua análise desconsidera o fato de que a insatisfação popular não é artificialmente fabricada. Ele atribui o problema à crise econômica e à “concentração de renda”, sugerindo que setores da classe média buscam culpados entre minorias ou imigrantes. Para resolver essa questão, propõe um controle ainda maior sobre o espaço digital, restringindo o debate público e permitindo que o Estado decida o que pode ou não ser dito.
Mas será que o problema está realmente nas redes sociais e nos “algoritmos doutrinadores”? Ou será que os atos do STF, ao sair do texto constitucional e enveredar pela principiologia neoconstitucionalista, chegaram ao limite da tolerância do povo?
Se todo poder emana do povo, quem tem direito de falar nas redes? O cidadão comum ou a burocracia estatal? O discurso de Moraes sugere que a população não tem discernimento para diferenciar o que é verdadeiro e precisa de um filtro institucional para regular o acesso à informação. Mas essa lógica não se aproxima mais de um sistema de tutela do que de uma democracia?
Não por acaso, enquanto Moraes discursava, estudantes da USP exibiam faixas com a frase “Sem Anistia”, uma referência aos presos do 8 de janeiro. Em um ambiente universitário que deveria fomentar o debate, vê-se uma tendência à validação incondicional das ações do STF. Essa cena lembra a juventude partidária retratada em 1984, que não apenas apoiava cegamente o regime, mas se tornava uma peça-chave na manutenção do pensamento oficial.
A Constituição foi criada para ser a lei que governa aqueles que nos governam, não um texto moldável às conveniências do momento. O ministro defende que as redes sociais ameaçam a democracia, mas ignora o efeito corrosivo de um Judiciário que expande suas atribuições sem qualquer limite.
O discurso de Moraes, longe de representar uma defesa genuína da democracia, soa como uma tentativa de manter um monopólio da verdade nas mãos da elite estatal e acadêmica. Mas a realidade está mudando. A população já percebe que não precisa da tutela de iluminados para interpretar o mundo. E talvez esse seja o grande incômodo do ministro: o povo está começando a pensar por conta própria.
Essa tentativa de controle da narrativa não se limita ao campo discursivo. Após a decisão de Moraes de bloquear o Rumble no Brasil, a empresa recorreu à Justiça dos Estados Unidos, alegando que a ordem viola princípios fundamentais da liberdade de expressão. Esse movimento acende um alerta: o Brasil pode estar se tornando um laboratório de censura digital, onde decisões judiciais extrapolam a jurisdição nacional para regular o que pode ou não ser dito na internet. Se isso se consolidar, estaremos cada vez mais próximos da distopia orwelliana.
A pergunta que fica é: se a verdade pode ser definida por aqueles que detêm o poder, ainda estamos em uma democracia ou já adentramos o universo de 1984? A fronteira entre o alerta de Orwell e a nossa realidade está se tornando cada vez mais tênue. O Ministério da Verdade pode não existir formalmente, mas sua lógica já está em ação: determinadas vozes precisam ser silenciadas, certas ideias são perigosas demais para circular e a liberdade só pode existir se for controlada por aqueles que dizem protegê-la.
Se esse caminho continuar, talvez em breve seja necessário ensinar às novas gerações que “censura é liberdade” e “controle da informação é democracia”.
Por vezes, o recurso à ironia é o caminho para nossa sanidade. Talvez seja mesmo perigoso permitir que as pessoas pensem por conta própria. Afinal, se assumirmos que todo ser humano é um idiota manipulável, incapaz de discernir informações, de buscar diferentes fontes e de chegar a suas próprias conclusões, então faz sentido acreditar que a única saída seja um comitê de iluminados filtrando o que pode ou não ser dito. Nesse caso, o verdadeiro problema não seria a desinformação, mas a teimosa insistência da população em não aceitar, sem questionar, a versão oficial dos fatos. Talvez, quem sabe, fosse até mais eficiente abolir essa ideia antiquada de livre arbítrio e substituir o debate público por um boletim informativo estatal. Seria o triunfo da democracia — ou pelo menos daquela que precisa ser protegida das próprias pessoas para continuar existindo.
*Leonardo Corrêa – Advogado, LL.M pela University of Pennsylvania, Sócio de 3C LAW | Corrêa & Conforti Advogados, Fundador e Presidente da Lexum